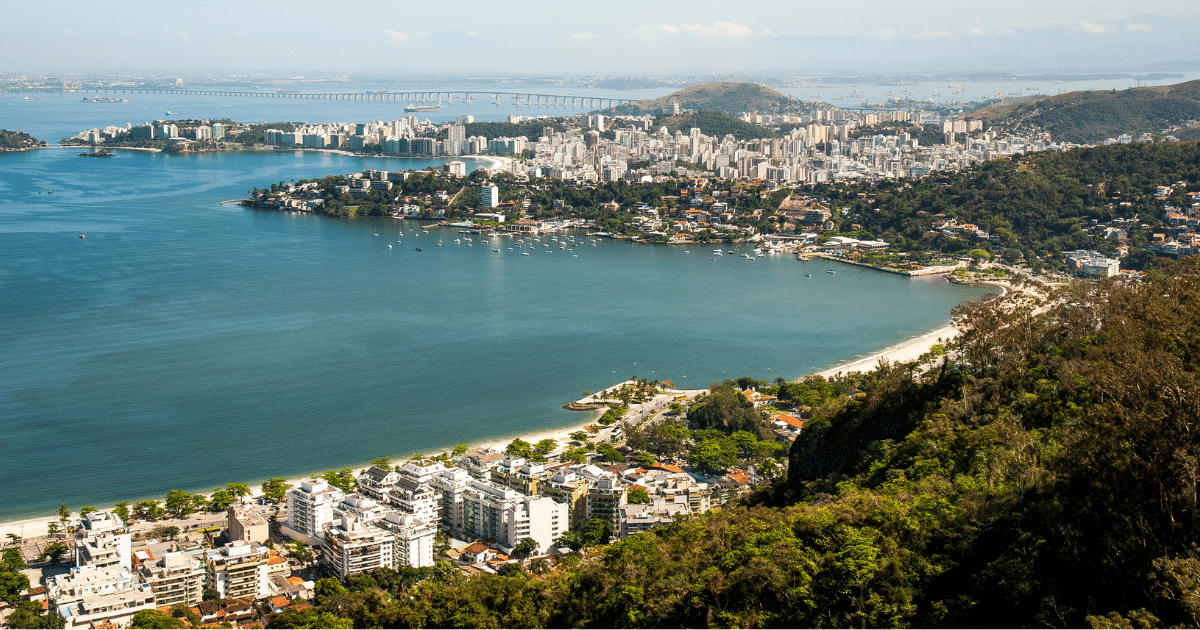Uma dos crimes mais populares envolve a promessa de brindes e prêmios gratuitos
Todos os dias somos bombardeados com notícias de pessoas que caíram em golpes na internet e perderam dinheiro ou tiveram seus dados e identidades roubadas. O Brasil tem se destacado de maneira negativa no cenário global, no ranking de golpes cibernéticos. Somos o país mais visado quando se pensa em crimes on-line. A empresa Fortinet realizou uma pesquisa no ano passado e apurou que ocorreram em torno de 103, 1 bilhões de tentativas de ataques. Os avanços tecnológicos, embora tragam muitos benefícios, também têm sido utilizados por criminosos para aplicar fraudes, especialmente através de perfis falsos e clonagem de sites.
Uma dos crimes mais populares envolve a promessa de brindes e prêmios gratuitos. Os criminosos criam perfis falsos em redes sociais ou enviam e-mails que parecem ser de empresas legítimas, oferecendo produtos gratuitos em troca de informações pessoais ou pagamento de uma taxa de envio. Uma vez que as vítimas fornecem esses dados, os golpistas podem usá-los para roubar identidades ou realizar outras operações financeiras em nome da vítima. Há também a criação de sites falsos que imitam lojas online oficiais e são visualmente idênticos aos verdadeiros, o que dificulta a identificação por parte dos consumidores. As vítimas acreditam estar comprando de um site confiável, mas acabam fornecendo suas informações de pagamento a criminosos. No final do ano passado, houve um aumento significativo desses golpes durante períodos de promoção, como a Black Friday, quando o volume de compras online cresce exponencialmente. Nessa Páscoa consumidores também foram vítimas no site que imitava o de uma famosa marca de chocolates.
Mas não são só as empresas que são alvo dos bandidos, o poder público também. Um golpe emergente envolve o uso do portal Gov.br, a plataforma oficial do governo brasileiro. Criminosos estão clonando o site e enviando links falsos por e-mail ou mensagem de texto, solicitando que os usuários façam login para resolver supostos problemas ou atualizar informações. Quando as vítimas inserem suas credenciais, os golpistas ganham acesso a dados sensíveis que podem ser usados para várias atividades fraudulentas.
A inteligência artificial (IA) tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos de criminosos cibernéticos. Uma das táticas envolve a clonagem de sites, onde a IA é utilizada para criar réplicas quase perfeitas de páginas legítimas. Além disso, a IA pode ser empregada para gerar notícias falsas que parecem ser de fontes confiáveis, enganando consumidores e investidores, as Deep Fakes. Um exemplo notório foi o caso envolvendo a Faber-Castell. Bandidos usaram IA para criar um vídeo falso com um executivo da empresa anunciando uma promoção fictícia. A autenticidade do vídeo convenceu muitas pessoas a participarem da falsa campanha, resultando em perdas significativas.
Para aumentar sua segurança e diminuir o risco de ser uma vítima, sempre verifique a URL do site antes de inserir informações pessoais. Sites seguros geralmente começam com “https://” e têm um cadeado ao lado da barra de endereço. Desconfie de e-mails ou mensagens que solicitam informações pessoais ou financeiras. Verifique sempre a autenticidade diretamente no site oficial ou através de contato telefônico com a empresa. Ative a autenticação em duas etapas em todas as contas possíveis. Isso adiciona uma camada extra de segurança, dificultando o acesso não autorizado mesmo que suas credenciais sejam comprometidas. Mude suas senhas regularmente e evite usar a mesma senha para múltiplas contas. Utilize gerenciadores de senhas para criar e armazenar senhas seguras, existem muitas pessoas que utilizam a mesma senha há anos e para diversos sites e dispositivos.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, em vigor desde 2020, é uma ferramenta crucial na proteção dos dados pessoais dos consumidores. Ela estabelece regras claras sobre a coleta, armazenamento e uso de dados pessoais por empresas e organizações. A LGPD impõe penalidades rigorosas para a violação dessas regras, incentivando as empresas a adotarem práticas de segurança robustas para proteger as informações dos usuários. Isso ajuda a reduzir o risco de que dados pessoais sejam usados em golpes cibernéticos. Além disso garante que os consumidores tenham mais controle sobre seus dados pessoais, podendo solicitar a exclusão, correção ou acesso a essas informações. Com maior transparência e controle, os consumidores podem tomar decisões mais informadas e seguras ao compartilhar seus dados online.
A crescente sofisticação dos golpes cibernéticos exige que os consumidores estejam sempre vigilantes e bem informados. A adoção de práticas de segurança, a verificação constante de informações e o uso consciente da internet são essenciais para minimizar os riscos. A tecnologia pode ser uma aliada, mas também uma arma nas mãos erradas. Portanto, a prevenção e a educação são nossas melhores defesas contra essa ameaça global.
As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Connected Smart Cities