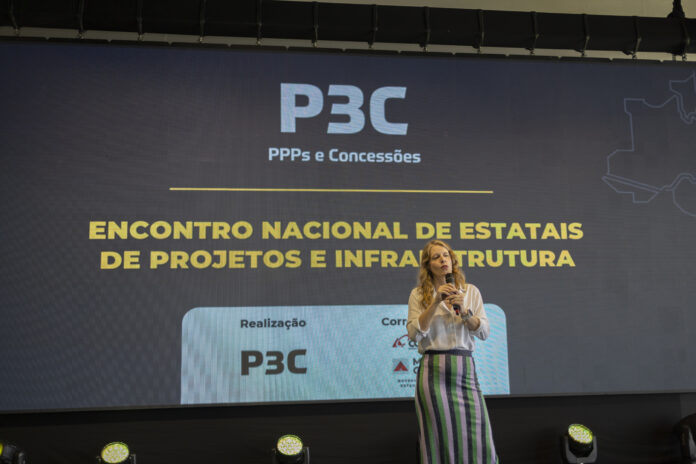A identidade como infraestrutura crítica
Existe um fenômeno curioso sobre o qual pouco se fala, não estarão as cidades do mundo ficando assustadoramente parecidas? E não falo aqui das grandes crises urbanas que já conhecemos, desigualdade, mobilidade, habitação, clima, mas de algo mais sutil, pouco tangível, um ruído de fundo, um déjà-vu arquitetônico, uma sensação incômoda de repetição.
Por que, afinal, tantos lugares diferentes parecem variações de um mesmo modelo global? Por que o mundo parece estar repleto do mesmo café descolado, da mesma praça moderninha, do mesmo mercado “autoral”, da mesma orla higienizada?
A resposta aparentemente é estética, aparentemente.
Cidades são feitas de ideias e narrativas, não só de concreto, e quando elas são copiadas ou ainda pior, copiadas e importadas, o lugar tende a perder o sotaque. Será que, ao perdermos o sotaque, não perdemos também a possibilidade de imaginarmos futuros próprios?
A homogeneização é acidente ou é projeto? Se for acidente, é preciso atenção processual, se for projeto, exige resposta.
É aqui que Place Branding, ou Identidade do Lugar, não o marketing territorial, mas a estratégia profunda de engajamento e ativação de singularidades, assume um papel que, até pouco tempo, não fazia parte do seu escopo: atuar como força contracolonial, uma espécie de infraestrutura simbólica que protege, revela e reativa aquilo que torna cada lugar irrepetível.
Quando a cidade fala com voz emprestada
Você pode estar pensando, esse cara fala “Place Branding” e quer falar de decolonização e contracolonização, pois é, não só quero, como devo. Ainda que Nêgo Bispo diga que é preciso usar a linguagem do colonizador contra ele, e obviamente aqui não me refiro a colonização strictu sensu e sim a uma colonização também cultural, existe um momento em que a linguagem estrangeira começa a incomodar, mais uma vez não pela forma, mas pela intenção.
Planejar deixa de ser criar caminhos e passa a ser nivelar irregularidades, tecnologia deixa de ser ferramenta e vira fetiche, eficiência deixa de ser meio e vira fim, o futuro deixa de ser disputa e vira roteiro.
E o resultado é esse que começamos a ver: lugares que funcionam, mas não necessariamente significam. Cidades mais eficientes, mas emocionalmente anêmicas. Experiências instagramáveis, mas não vividas.
Aparentemente a estética global sempre chega com a promessa de modernidade, a arquitetura e seus arquitetos de “grife” sabem disso melhor que ninguém.
Mas modernizar apagando não será, no fundo, uma forma de colonizar pelo design?
Homogeneização e a estética do vazio
O urbanismo global as vezes soa como um grande catálogo ( na verdade nem tão grande assim) ou como aquela classificação internacional de doenças (CID), não importa o contexto, o diagnóstico é sempre semelhante e o receituário também.
Masterplans com a mesma cara, bairros criativos com o mesmo clima, parques lineares (argh!) com o mesmo mobiliário urbano, distritos culturais com o mesmo discurso.
Essa padronização tem causas muito objetivas: ela reduz risco, simplifica aprovação, facilita venda, gera conforto para investidores e algum conforto para as classes dominantes. Facilidades para quem mesmo? A que custo cultural? A que custo simbólico? A que custo social?
Não estarão as cidades, à medida que se ajustam a essas expectativas globais, trocando identidade por eficiência, sem muitas vezes nem estarem cientes disso?
O vazio causado por essa troca pouco inteligente, pode não ser percebido à primeira vista, mas corrói a vocação do lugar por dentro.
Identidade é estrutura
Um dos enganos mais comuns é achar que identidade urbana é adereço, uma camada estética a ser aplicada “pós-obra”. Identidade não é cosmética, é estrutura.
É ela que reforça como o lugar se reconhece e o orienta na diferenciação, ao mesmo tempo que é a base a para imaginar o amanhã.
Sem identidade, não há futuro, apenas uma sucessão eterna de cópias.
E cópias não geram pertencimento, não atraem talento, não mobilizam comunidade e, sobretudo, não criam significado. Singularidade do lugar não é detalhe: é força propulsora de futuros, os elementos do passado e do presente que, compreendidos e compartilhados, servem de base sólida para os próximos passos.
Autenticidade performática: o paradoxo contemporâneo
Aqui entra o debate que Emannuel Costa aprofunda no artigo “Não existe não-lugar. Nem autenticidade. E está tudo bem.”, onde aponta que o mercado urbanístico transformou dois termos complexos: não-lugar (Augé) e autenticidade, em rótulos simplificados, usados para diagnosticar problemas e justificar soluções genéricas.
Ambos se tornaram slogans, quase sempre vazios. Não existiria não-lugar, existiria lugar sem lugaridade, não existe autenticidade, existe intenção, diria ele.
E isso desmontaria boa parte do discurso contemporâneo, porque o problema não estaria nos espaços de passagem, aeroportos, estações, centros corporativos, mas na falta de intencionalidade na relação que estabelecemos com eles.
O que está em crise não é a autenticidade, mas o uso superficial que fazemos dela. Quando tudo se vende como “autêntico”, nada é, quando a autenticidade vira estética, ela perde capacidade de significar.
E aqui ele lança a pergunta, que reverbera diretamente no Place Branding:
“Será que o mercado não tenta produzir autenticidade como se fosse um produto, quando na verdade ela é consequência de intenção, relação, tempo e afeto?”
Essa pergunta, simples e incômoda, deveria orientar todos os projetos urbanos da próxima década, não reproduziremos uma autenticidade “importada” ao invés de refletirmos sobre nossa identidade e intenção?
Contra o urbanismo “crt +c/ crt+v”
Existe um motivo para tantos lugares planejados parecerem cenários de filme e alguns, muito celebrados pelo novo urbanismo, literalmente os são, como a cidade de Seaside, cenário (e aqui o termo nunca soou tão intenso) do Show de Truman.
O mercado aprendeu a identificar “códigos estéticos da autenticidade e qualidade” e replicá-los como se fossem receita infalível, que vão do produto ao plano: tijolo aparente, estética industrial, cafés “especiais”, um material de demolição aqui e ali e claro, minha tríade preferida (ironia), ruas largas, cul-de-sac e parques lineares.
Mas profundamente, o que muda? É autenticidade performática, exatamente o termo que o Emannuel usa para descrever o paradoxo: Muitas vezes é justamente na tentativa ansiosa de sermos autênticos que nos tornamos, de fato, genéricos.
A estética da autenticidade substituiu a experiência da autenticidade, e isso, ironicamente, nos levou de volta ao problema original: lugares sem lugaridade, porque lugaridade não nasce da estética, nasce do modo como as pessoas ocupam, ritualizam e devolvem significado ao lugar.
Place Branding como infraestrutura contracolonial
Diante disso, Place Branding deixa de ser estratégia de posicionamento e passa a ser estratégia de independência simbólica.
É uma ferramenta que:
- Revela identidade profunda (e não decorativa).
- Protege vocações contra o apagamento global.
- Direciona investimentos a partir do que o lugar é, não do que o mercado quer que ele seja.
- Materializa singularidade no cotidiano: sombra, água, ritmo, gesto, pausa, celebração, encontro, contemplação.
- Conecta passado e futuro por ações, necessidades e desejos, e não por slogans.
É, sobretudo, uma tecnologia de intenção, baseada de forma cocriada na realidade.
Intenção de não aceitar que lugares riquíssimos em cultura, tempo, ancestralidade e imaginação, sejam reduzidos a modelos globais sob a desculpa de modernização.
Singularidade é o verdadeiro motor dos futuros
Não existe O Futuro, existem futuros que disputam o presente.
E nenhum deles pode ser projetado sem compreender quem somos enquanto lugar, enquanto temporalidade, enquanto comunidade, enquanto cultura.
Esse artigo não é contra a “qualificação”, muito pelo contrário, é contra o modelo que usamos para essa qualificação, ou pior, tudo aquilo que vem antes da decisão sobre a qualificação do lugar.
As cidades que prosperarão não serão as mais eficientes.
Serão as mais intencionais.
As mais honestas consigo mesmas.
As que questionam a estética global como destino inevitável.
As que compreendem que singularidade é valor, não risco.
E como Emannuel lembra, lugaridade não é condicionante: qualquer espaço pode se tornar lugar se for atravessado por intenção, por rituais, por presença, por uso, por afeto, ou como eu mesmo costumo dizer, com: atividades, pessoas e significado.
O contrário também é verdadeiro: qualquer lugar pode perder lugaridade se for atravessado por indiferença, modelos estandarizantes e fórmulas.
O que sobra quando tudo se parece?
Porque, como Emmanuel propõe, autenticidade não é só essência, é ação, e lugar não é cenário, é relação. Tudo o que o estandarizante global tenta achatar, o lugar vivo tenta devolver ao singular, e tudo o que tentam transformar em produto, a comunidade devolve como experiência.
É por isso que identidade importa, que Place Branding (ou seja lá como viermos a chamá-lo num futuro muito próximo) importa.
Se todas as cidades se parecerem, o que diferenciaria uma das outras?
O café mais bonito? O mural mais instagramável? O parque mais limpo?
Nada disso sustenta vínculo, nada disso imagina futuro, nada disso produz pertencimento.
A homogeneização é um dos grandes desafios urbanos deste século, e singularidade, revelada, cuidada, intencional, pode ser o antídoto.
No fim das contas, a pergunta não é: Como uma cidade pode parecer mais autêntica?
Mas sim: Como uma cidade pode ser mais verdadeira consigo mesma?
As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal CSC.