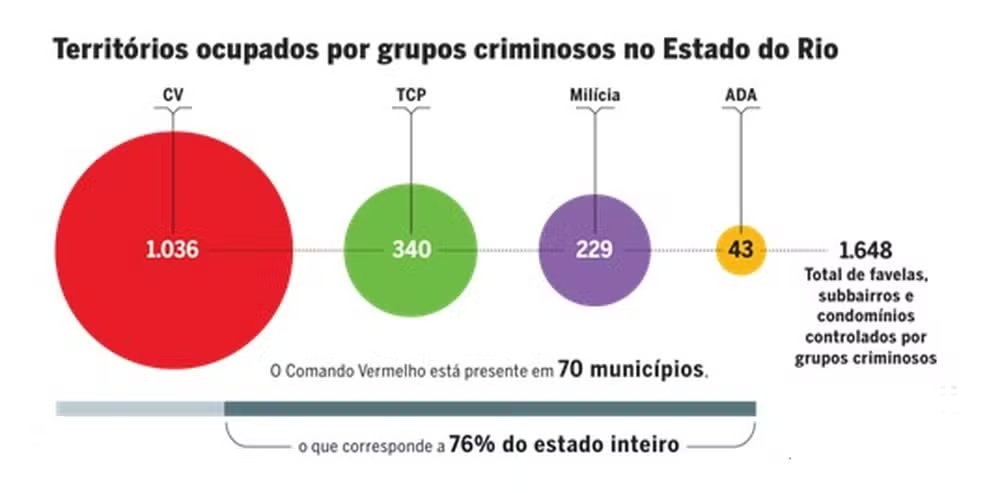O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 0,48% em setembro para 0,09% em outubro, um recuo de 0,39 ponto percentual (p.p.). Esse resultado é o menor para um mês de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%. No ano, a inflação acumula alta de 3,73% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,68%. Em outubro de 2024, a variação havia sido de 0,56%. Os resultados foram divulgados hoje (11) pelo IBGE.
A energia elétrica é a principal influência negativa no índice do mês (-0,10 p.p.), com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%. De acordo com Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, esse movimento é explicado pela mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, vigente em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos, ao invés dos R$ 7,87. Outros destaques negativos são as quedas no aparelho telefônico (-2,54%) e no seguro voluntário de veículos (-2,13%).
Na composição do IPCA de outubro, interrompendo uma sequência de quedas, o grupo alimentação e bebidas, que possui o maior peso na estrutura do indicador, apresentou praticamente estabilidade na média de preços, variando 0,01%. O índice não exerceu pressão no resultado geral da inflação e é o menor resultado para um mês de outubro desde 2017, quando foi de -0,05%. A alimentação no domicílio caiu 0,16%, com destaque para as quedas do arroz (-2,49%) e do leite longa vida (-1,88%). Dentre as altas, estão a batata-inglesa (8,56%) e o óleo de soja (4,64%).
“Isso, aliado à queda no grupo Habitação contribuíram para a desaceleração observada. A título de ilustração, o resultado do índice de outubro sem considerar o grupo dos alimentos e a energia elétrica ficaria em 0,25%, explica Fernando”.
Já a alimentação fora do domicílio acelerou na passagem de setembro (0,11%) para outubro (0,46%). Em igual período, o subitem lanche saiu de 0,53% para 0,75%, e a refeição foi de -0,16% para 0,38%.
O grupo Vestuário (0,51%) apresentou a maior variação no mês de outubro, com destaque para as altas nos calçados e acessórios (0,89%) e na roupa feminina (0,56%). No grupo Despesas pessoais (0,45%), o destaque é para o subitem empregado doméstico, que subiu 0,52% e o pacote turístico com alta de 1,97%.
Saúde e cuidados pessoais (0,41%) foi o grupo de maior impacto no índice, com 0,06 p.p., alta impulsionada pelos artigos de higiene pessoal (0,57%) e plano de saúde (0,50%). A variação de 0,11% de Transportes reflete a alta da passagem aérea (4,48%) e dos combustíveis (0,32%). À exceção do óleo diesel que caiu 0,46%, os demais combustíveis apresentaram variações positivas em outubro: etanol (0,85%), gás veicular (0,42%) e gasolina (0,29%).
Na análise regional, os índices apontam que a maior variação foi registrada em Goiânia (0,96%), impulsionada pela alta da energia elétrica residencial (6,08%) e da gasolina (4,78%). A menor variação (-0,15%) foi registrada em São Luís, em função da queda do arroz (-3,49%) e da gasolina (-1,24%), e em Belo Horizonte, com destaque para as quedas na gasolina (-3,97%) e na energia elétrica residencial (-2,71%).
INPC tem alta de 0,03% em outubro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou alta de 0,03% em outubro. No ano, o acumulado é de 3,65% e, nos últimos 12 meses, de 4,49%, abaixo dos 5,10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2024, a taxa foi de 0,61%.
Os produtos alimentícios passaram de -0,33% em setembro para 0,00% em outubro. A variação dos não alimentícios passou de 0,80% em setembro para 0,04% em outubro.
Quanto aos índices regionais, a maior variação (0,92%) ocorreu em Goiânia, por conta da energia elétrica residencial (6,16%) e da gasolina (4,78%). A menor variação ocorreu em Belo Horizonte (-0,21%), em razão da queda na gasolina (-3,97%) e na energia elétrica residencial (-2,68%).
Mais sobre as pesquisas
O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC, as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Acesse os dados no Sidra. O próximo resultado do IPCA, referente a novembro, será divulgado em 10 de dezembro.
Fonte: Agência de Notícias IBGE